- @dr_arquetipo
- Posts
- O caos não é o vilão, o caos é uma construção social
O caos não é o vilão, o caos é uma construção social
Esquerda e direita expressam a imagem da comunidade que comunga de uma ideia e não de outra. O outro é considerado parte do caos.
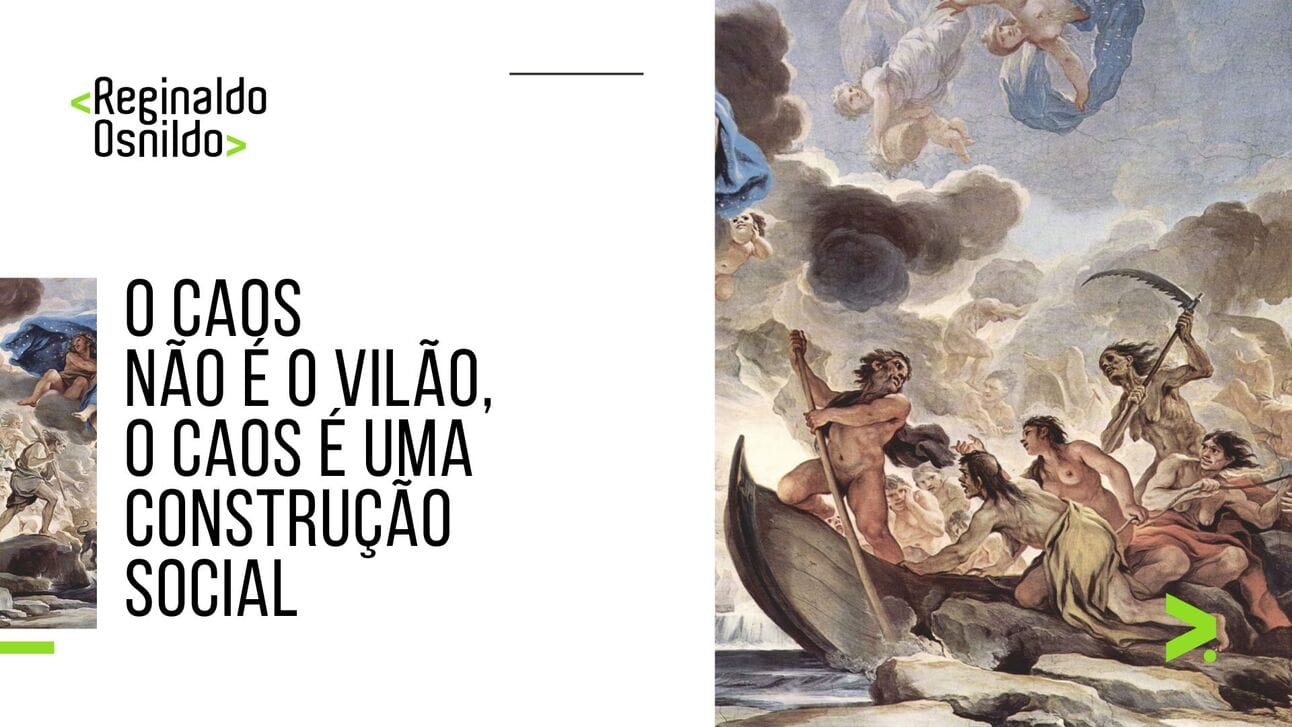
Saudações,
Ontem, eu trouxe como reflexão o caos enquanto criatura a ser combatida em sua vida, mas o caos não é o vilão. As mitologias antigas, como um todo (gregas, romanas, egípcias, nórdicas, etc.), não tratam os monstros que apresentaram à humanidade, ou os opositores dos heróis que criaram, como vilões, mesmo sendo esse o entendimento atual. Vilão é um termo moderno. O que existia em termos de imagem antes desta conceituação eram os monstros, os inimigos, as pessoas que não faziam parte do mesmo convívio social ou comungavam ideias diferentes, além dos habituais infratores da lei vigente em cada sociedade, como os ladrões, assassinos, entre outros. O vilão da atualidade é uma criação nossa, uma construção social. Hoje o texto traz essa reflexão, espero que goste.
Boa leitura.
Nas literaturas atuais, muitos vilões são monstros, mas nas narrativas clássicas, a exemplo do que traz Bulfinch (2006, p. 150), os monstros eram “seres de partes ou proporções sobrenaturais, em via de regra encarados com horror, como possuindo imensa força e ferocidade, que empregavam para perseguir e prejudicar os homens”. No mesmo raciocínio, Moura (2014, p. 88) levanta que o pensamento se constituiu, desde Platão ao Cristianismo, pela diferença, divisão, oposição, “colocando a natureza como outro, lugar da morte, do acidente, da ameaça, do imprevisível, do caos”. A autora (2014, p. 89) fala da possibilidade de a cultura ocidental ser a única que pensa a natureza como morte e não vida, o que permitiu o pensamento de um lugar perfeito: “o paraíso – ao qual o humano pudesse efetivamente aspirar”. Mas, ao invés de entrarmos no conflito apocalíptico entre o Cristo (herói) e o anticristo (vilão), céu e inferno, e o medo que este suscita, vamos focar no mito do caos.
A imagem do caos mitológico e a construção da sociedade
Nos relatos de Hesíodo (2003), a linhagem do Caos, ser mitológico, abarca todos os formatos de violência e potências negativas e destrutivas, onde o Caos prevalece em poder na cisão, desagregação, violência e morte. Eliade (1992, p. 21) observa que a característica das sociedades tradicionais é a oposição entre o território que está habitado e o desconhecido que o cerca: “o primeiro é o ‘mundo’, mais precisamente, ‘o nosso mundo‘, o Cosmos; o restante já não é um Cosmos, mas uma espécie de ‘outro mundo‘, um espaço estrangeiro, caótico, povoado de espectros, demônios, ‘estranhos‘ (equiparados, aliás, aos demônios e às almas dos mortos)”. Nessa imagem que cria da comunidade que habita, o homem a ordena em oposição ao que não está ordenado, ao caos que se estende para além de suas fronteiras. Para Eliade (1992), o território que o homem habita é o “Cosmos”, o “Mundo” fundado e estabelecido em limites pela ordem cósmica. Nesse sentido, conforme a perspectiva de Eliade (1992, p. 22), “um território desconhecido, estrangeiro, desocupado (no sentido, muitas vezes, de desocupado pelos ‘nossos‘) ainda faz parte da modalidade fluida e larvar do ‘Caos’". Em outras palavras, aquele que não está, ou faz parte, na comunidade – do cosmos –, que o homem habita, é ou está no caos – carrega a imagem de inimigo, vilão.
O caos que evoca a imagem da cura
No que é resgatado por Eliade (1992), o mito do Caos está presente em diversos momentos. No Tibete, a cura era ritual e consistia em recitar o mito da criação do mundo seguida do recitar do mito das doenças e da aparição do primeiro curandeiro, “sabe-se que nas práticas de cura dos povos primitivos, como aqueles que se baseiam na tradição, o medicamento só alcança eficácia quando se invoca ritualmente, diante do doente, a origem dele” (ELIADE, 1992, p. 45). O autor (1992) reforça que um número expressivo de preceitos mágicos no Oriente e na Europa incluía a história dos demônios e das doenças quando se exigia que uma divindade ou santo vencesse o mal. O mal está, de certo modo, ligado ao desconhecido, como já apontado por Bauman (2008). E, partindo do conhecido, cria-se a imagem do que não se conhece. Aqui se entende por que a imagem do Xamã, trazida por Clastres (2004), era tão frágil. Qualquer não sortimento de efeito o faria vilão, pela associação com o caos. A comunidade o acusaria (e até o mataria por isso).
Do caos ao cosmos (a construção da comunidade)
Nos resgates de Eliade (1992, p. 28), consta que os escandinavos invadiram a Islândia como uma repetição do ato primordial que transforma o ‘Caos‘ em ‘Cosmos‘, ato divino que estruturava a terra desértica, dando-lhe forma. O que faz da conquista e ocupação de territórios já habitados por estranhos a repetição da cosmogonia “porque, da perspectiva das sociedades arcaicas, tudo o que não é ‘o nosso mundo‘ não é ainda um ‘mundo‘. Não se faz ‘nosso‘ um território senão ‘criando-o‘ de novo, quer dizer, consagrando-o”. De acordo com o autor (1992), foi este o comportamento que moveu os conquistadores portugueses e espanhóis nas grandes navegações – talvez por isso alguns povos indígenas tenham sido dizimados. Em síntese, se não pertence à comunidade que o homem está inserido é um inimigo, ou até, o próprio caos, vazio, informe.
A construção social do caos nos dias de hoje
Esquerda e direita. Muito mais do que vilões um para o outro, expressam a imagem da comunidade que comunga de uma ideia e não de outra. O outro é considerado parte do caos. Do que pode destruir o país, do que pode fazer o que é certo voltar a ser errado. Eu poderia elencar inúmeros medos que foram construídos para que o arquétipo do caos fosse ativado no inconsciente do brasileiro, mas não é necessário. Você já entendeu que o caos é uma narrativa, uma construção social. O caos não é o vilão. O caos é tudo aquilo que não faz parte do nosso cosmos. Se uma harmonia nacional existisse, nosso caos seria outro e não a nós mesmos, nossos irmãos, pais e cônjuges.
Envie esse texto para aquele amigo de direita ou de esquerda, não importa, no cosmos dele, meu texto soará como caótico.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Reginaldo Osnildo
Referências:
BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. Tradução de Carlos Alberto Medeiros.
BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: história de deuses e heróis. 34. Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. Tradução de David Jardim.
CLASTRES. Pierre. Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política. Cosac & Naify, 2004. São Paulo: Tradução de Paulo Neves.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992. Tradução de Rogério Fernandes. (Tópicos)
HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 5. Ed. São Paulo: Iluminuras, 2003. Tradução de Jaa Torrano (Edição revisada e acrescida do original grego)
MOURA, Catarina. Um sentido para o design. Da fragmentação tecnoimagética do real à ilusão da totalidade. In: (Org) ARAUJO, Denize Correa; CONTRERA, Malena Segura. Teorias da Imagem e do Imaginário. Compós. 2014. 368 p; 79-113.
Reply